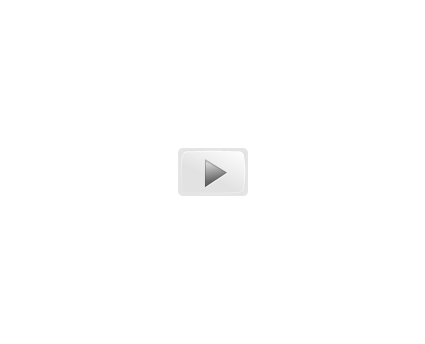Bastardos Inglórios
A Segunda Guerra na visão fusionista-nerd de Quentin Tarantino
por Érico BorgoA Segunda Guerra na visão fusionista-nerd de Quentin Tarantino
Nos videogames existem os chamados mod developers, sujeitos que pegam games existentes no mercado e interferem em seu funcionamento, dando aos jogos novas características, fundindo temas e franquias, mas quase sempre trabalhando dentro de uma estrutura funcional pré-estabelecida. De um clássico, portanto, pode surgir algo novo e que acaba tão - ou em alguns casos, mais - apreciado quanto o título original.
Quando penso no cinema de Quentin Tarantino em Bastardos Inglórios (Inglourious Basterds) não consigo deixar de compará-lo a um mod developer - e um dos bons. Como é habitual na cinematografia do cineasta, ele mistura linguagens, épocas e escolas - que praticamente desaparecem no resultado, tornando-se algo só dele. Dos faroestes de Sergio Leone (que já haviam inspirado Kill Bill Volume 2) vêm a inspiração para a música (Ennio Morricone está na trilha!) e a tensão nos duelos (verbais ou físicos). De John Ford ele empresta a temática da vingança, todo o "Capítulo 1" e um enquadramento arrancado de Rastros de Ódio (The Searchers, 1956). A criação do personagem Aldo Rayne (Brad Pitt) vem de atores como Aldo Ray (1926-1991) e John Wayne (1907-1979). De um obscuro filme de guerra italiano de 1978 o título do filme. Da nouvelle vague o teor do "Capítulo 3", com a Shosanna de Mélanie Laurent lembrando as personagens dos filmes de Truffaut... a lista é extensa... e tenho certeza que triplicará quando eu assistir ao filme novamente.
Tarantino, supernerd cinéfilo, apanha todas essas coisas que lhe são queridas, com as quais cresceu, e as transforma. Ele já fez isso antes muitas vezes, mas neste busca uma certa organização sutil separando os gêneros que emula através de uma organização em capítulos. São quase todos excelentes. O problema é justamente quando, superconfiante, ele deixa escapar uns arroubos pops. Normalmente eles funcionam nas mãos dele, mas aqui - é um filme de época, afinal - causam estranheza em um ou outro momento. "Cat People (Putting Out Fire)" de David Bowie na Segunda Guerra? Exagero (ainda que a cena daria um videoclipe e tanto se isolada).
A história começa na França ocupada pelos nazistas, onde Shosanna Dreyfus (Laurent) testemunha a execução de sua família pelas mãos do coronel nazista Hans Landa (Christoph Waltz merecia uma crítica à parte). Após uma introdução brilhante com uma intensa conversa entre os personagens de Denis Menochet e Waltz, a jovem consegue escapar e foge para Paris, onde cria uma nova identidade como dona de cinema. Enquanto isso, também na Europa, o tenente Aldo Raine (Pitt) inferniza ao lado de seu grupo de soldados judeus os nazistas. Conhecido por seus inimigos como Os Bastardos, o esquadrão de Raine se junta à atriz alemã e agente infiltrada Bridget Von Hammersmark (Diane Kruger) em uma missão para derrubar os líderes do Terceiro Reich. E os destinos convergem para o cinema onde Shosanna está planejando a sua própria vingança.
Inteligente, ainda que mantida rigorosamente simples, a trama investe nos atores - e a direção de elenco é a melhor da carreira já celebrada por essa característica de Tarantino. E se comentei acima que Christoph Waltz merecia sua própria crítica, dedico-lhe ao menos um parágrafo. O ator austríaco não dá chance a quem quer que divida a cena com ele. Seu vilão é tão sensacional que Bastardos Inglórios torna-se, sem querer, quase como um filme do Batman, em que são os antagonistas que valem o ingresso. Brad Pitt? Bom e caricato, como o filme exige. Mas Waltz está simplesmente em outra esfera de talento.
Caricaturas, aliás, são o pão-com-manteiga do filme. É divertida a maneira como Tarantino conscientemente reduz personagens aos seus estereótipos conhecidos (o americano caipira e bruto, a francesa blasé, o inglês supereducado, os nazistas engomadinhos...) para economizar tempo em explicações e construção de personagens. O único com quem ele realmente se preocupa é, de novo, Hans Landa, e isso causou certa polêmica entre a crítica. Adorar o nazista, mesmo com o tresloucado e historicamente alucinado clímax que o filme oferece, não é algo de fácil digestão mesmo.
Também passível de discussão é a eterna "violência tarantinesca". Uns amam, outros odeiam. Considerando os filmes anteriores do diretor, achei desta vez ela até contida, deixada para poucos momentos de impacto. Mas isso por que não me importo em ver escalpos e tacos de baseball esfacelando cabeças. O cinema de Tarantino tem mesmo essa propriedade um tanto anestésica em alguns em relação à sangreira. Ele consegue transformar o "gore" em "cool" dentro de determinados públicos. Mas fica o aviso - há quem tenha criticado duramente a produção por conta disso, gente que considera Tarantino um eterno adolescente fascinado com seus brinquedos. Não é o caso desta crítica, mas consigo entender as razões dessas pessoas. Tarantino é mesmo inconsequente - mas enquanto tiver seu público cativo, formado por gente como ele, seguirá em seu mundinho. Eu, pelo menos, agradeço.
Quando penso no cinema de Quentin Tarantino em Bastardos Inglórios (Inglourious Basterds) não consigo deixar de compará-lo a um mod developer - e um dos bons. Como é habitual na cinematografia do cineasta, ele mistura linguagens, épocas e escolas - que praticamente desaparecem no resultado, tornando-se algo só dele. Dos faroestes de Sergio Leone (que já haviam inspirado Kill Bill Volume 2) vêm a inspiração para a música (Ennio Morricone está na trilha!) e a tensão nos duelos (verbais ou físicos). De John Ford ele empresta a temática da vingança, todo o "Capítulo 1" e um enquadramento arrancado de Rastros de Ódio (The Searchers, 1956). A criação do personagem Aldo Rayne (Brad Pitt) vem de atores como Aldo Ray (1926-1991) e John Wayne (1907-1979). De um obscuro filme de guerra italiano de 1978 o título do filme. Da nouvelle vague o teor do "Capítulo 3", com a Shosanna de Mélanie Laurent lembrando as personagens dos filmes de Truffaut... a lista é extensa... e tenho certeza que triplicará quando eu assistir ao filme novamente.
Tarantino, supernerd cinéfilo, apanha todas essas coisas que lhe são queridas, com as quais cresceu, e as transforma. Ele já fez isso antes muitas vezes, mas neste busca uma certa organização sutil separando os gêneros que emula através de uma organização em capítulos. São quase todos excelentes. O problema é justamente quando, superconfiante, ele deixa escapar uns arroubos pops. Normalmente eles funcionam nas mãos dele, mas aqui - é um filme de época, afinal - causam estranheza em um ou outro momento. "Cat People (Putting Out Fire)" de David Bowie na Segunda Guerra? Exagero (ainda que a cena daria um videoclipe e tanto se isolada).
A história começa na França ocupada pelos nazistas, onde Shosanna Dreyfus (Laurent) testemunha a execução de sua família pelas mãos do coronel nazista Hans Landa (Christoph Waltz merecia uma crítica à parte). Após uma introdução brilhante com uma intensa conversa entre os personagens de Denis Menochet e Waltz, a jovem consegue escapar e foge para Paris, onde cria uma nova identidade como dona de cinema. Enquanto isso, também na Europa, o tenente Aldo Raine (Pitt) inferniza ao lado de seu grupo de soldados judeus os nazistas. Conhecido por seus inimigos como Os Bastardos, o esquadrão de Raine se junta à atriz alemã e agente infiltrada Bridget Von Hammersmark (Diane Kruger) em uma missão para derrubar os líderes do Terceiro Reich. E os destinos convergem para o cinema onde Shosanna está planejando a sua própria vingança.
Inteligente, ainda que mantida rigorosamente simples, a trama investe nos atores - e a direção de elenco é a melhor da carreira já celebrada por essa característica de Tarantino. E se comentei acima que Christoph Waltz merecia sua própria crítica, dedico-lhe ao menos um parágrafo. O ator austríaco não dá chance a quem quer que divida a cena com ele. Seu vilão é tão sensacional que Bastardos Inglórios torna-se, sem querer, quase como um filme do Batman, em que são os antagonistas que valem o ingresso. Brad Pitt? Bom e caricato, como o filme exige. Mas Waltz está simplesmente em outra esfera de talento.
Caricaturas, aliás, são o pão-com-manteiga do filme. É divertida a maneira como Tarantino conscientemente reduz personagens aos seus estereótipos conhecidos (o americano caipira e bruto, a francesa blasé, o inglês supereducado, os nazistas engomadinhos...) para economizar tempo em explicações e construção de personagens. O único com quem ele realmente se preocupa é, de novo, Hans Landa, e isso causou certa polêmica entre a crítica. Adorar o nazista, mesmo com o tresloucado e historicamente alucinado clímax que o filme oferece, não é algo de fácil digestão mesmo.
Também passível de discussão é a eterna "violência tarantinesca". Uns amam, outros odeiam. Considerando os filmes anteriores do diretor, achei desta vez ela até contida, deixada para poucos momentos de impacto. Mas isso por que não me importo em ver escalpos e tacos de baseball esfacelando cabeças. O cinema de Tarantino tem mesmo essa propriedade um tanto anestésica em alguns em relação à sangreira. Ele consegue transformar o "gore" em "cool" dentro de determinados públicos. Mas fica o aviso - há quem tenha criticado duramente a produção por conta disso, gente que considera Tarantino um eterno adolescente fascinado com seus brinquedos. Não é o caso desta crítica, mas consigo entender as razões dessas pessoas. Tarantino é mesmo inconsequente - mas enquanto tiver seu público cativo, formado por gente como ele, seguirá em seu mundinho. Eu, pelo menos, agradeço.
Trailer: